conexão social
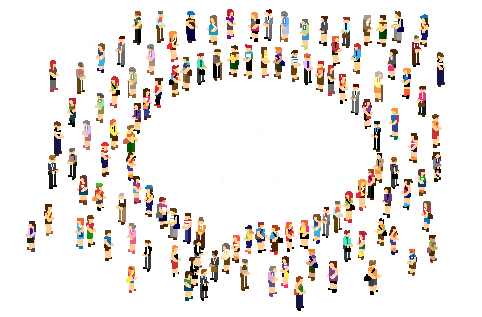
A superação de um modelo?
Para além da modernização da infraestrutura, precisamos pensar na readequação da concepção e da missão dos telecentros como espaços públicos de articulação.
Wilken Sanches
ARede nº 99 – julho/agosto de 2014
Tem sido comum, nos eventos em que se discute a inclusão e a cultura digital, ouvirmos sobre a superação do modelo dos telecentros e de como novos devices como os tablets ou os celulares inteligentes farão a inclusão digital da população. Frases de impacto, recheadas de números que mostram o aumento das vendas de smartphones, tentam legitimar esses discursos, que em grande parte das vezes têm como porta- -vozes representantes da burocracia estatal.
Antes a menina dos olhos de várias administrações, os projetos de inclusão digital foram deixando os holofotes para amargar com falta de investimentos e sucateamento. Nos últimos dez anos assistimos à extinção de várias iniciativas dessa natureza, como o Casas Brasil, os Telecentros Petrobras/Rits e o programa Telecentros.BR, para citar alguns da esfera federal. Nas administrações estaduais e municipais não é diferente. Até mesmo a cidade de São Paulo, cujo modelo de telecentros inspirou vários outros projetos, passa por um período de crise.
São comuns conclusões como: os telecentros não funcionam; as pessoas não querem mais ir ao telecentro; hoje a inclusão digital é pelo celular.
E todos esses argumentos estão corretos, em alguma medida. Mas será que é correto proferir a morte de um modelo de política pública sem ao menos ter explorado todas as suas possibilidades?
Talvez fosse o momento de nos perguntarmos: por que os telecentros não funcionam? Por que as pessoas não querem mais ir aos telecentros? Que tipo de inclusão pode ser feita pelo celular, essa é a inclusão digital que queremos?
O não funcionamento e a diminuição na procura por esses equipamentos residem justamente no sucateamento pelo qual os projetos vêm passando. Pouco ou nenhum investimento na infraestrutura desses equipamentos fez com que os telecentros se tornassem depósitos de computadores obsoletos, com velocidades de conexão insuficientes para que os usuários possam fazer uso de serviços básicos na rede,como assistir a um vídeo. Projetos que se resumem a doação de computadores tornaram-se um meio eficaz de empresas privadas e estatais descartarem seu lixo eletrônico.
A falta de investimentos não se restringe à infraestrutura dos projetos. A cada nova versão lançada dos telecentros, o Estado tenta se eximir mais das despesas de custeio desses espaços, transferindo a manutenção de equipamentos, conexão e funcionários a parceiros. A falta de investimentos na formação dos profissionais que atuam nos telecentros fez com que as atividades oferecidas nestes espaços envelhecessem junto com os equipamentos. Com raras exceções, os cursos oferecidos pelos telecentros Brasil afora são os mesmos de 2002. Seja porque o hardware ou a conexão do telecentro não permitem inovações ou porque os profissionais não têm treinamento adequado.
Um dos resultados desse sucateamento dos programas, ao contrário do que dizem aqueles que depositam a sua fé na inclusão digital como externalidade positiva do mercado, feita pelos smartphones e pelo barateamento da conexão, é que o Brasil, este ano, caiu nove posições no ranking que mede a capacidade das nações em usar a tecnologia da informação para estimular a competitividade e o bem-estar dos cidadãos.
Seja nos telecentros, seja por meio de tablets ou de smartphones, a concepção de inclusão digital baseada apenas no fornecimento de acesso à rede está fadada ao fracasso. A inclusão digital deve ser entendida como algo a mais do que apenas acessar redes sociais, curtir fotos e votar em enquetes. É preciso investir na capacidade de produção da população atendida pelos projetos. Os telecentros devem se aproximar mais dos pontos de cultura, do que das lan houses ou das escolinhas de informática.
Para além da modernização da infraestrutura dos telecentros, precisamos pensar em uma readequação da própria concepção e a missão desses espaços públicos. Montagem de espaços vocacionados, participação popular, estímulo a microrredes territoriais e o foco na produção de conteúdos deveriam nortear um novo modelo para a inclusão digital.
Um telecentro não pode e não deve ser igual ao outro. Seus equipamentos e seus cursos devem ser aderentes às necessidades da comunidades onde estão instalados. Esta adaptação só é possível com um conselho gestor funcionando de maneira efetiva. Se em uma comunidade há grande incidência de jovens músicos, não há por que o telecentro ignorar isso. O espaço deve estar estruturado para auxiliar a produção desses artistas e ajudar a disseminá-la. Se tiver parceria com uma associação de defesa de direitos humanos, suas atividades devem potencializar as ações da organização, abordando temas e propondo atividades dessa natureza.
Não é razoável achar que todas as unidades serão capazes de realizar todas as atividades possíveis de um telecentro, apesar de ser desejável. Algumas terão foco na produção de vídeos; outras, na produção de música, ou comunicação comunitária. O importante é que estejam articuladas em rede, ou como nós chamamos, em várias microrredes territoriais, onde os telecentros que produzem vídeos possam auxiliar os telecentros que trabalham com música e comunicação comunitária e vice-versa. Não só encaminhando usuários interessados de uma unidade para outra, mas propondo ações conjuntas entre as várias unidades de uma região.
Por fim, um projeto de cultura digital, assim como qualquer outra política pública, precisa ter intencionalidade. Isto é, o governo precisa saber exatamente onde quer chegar. Algo que se perdeu à medida em que se abriram telecentros como forma de gerar números, sem se importar com a qualidade dos serviços prestados nas unidades. Somente se soubermos onde queremos chegar com as políticas de cultura e inclusão digital evitaremos confundir a nossa incapacidade de inovação e gestão com a superação do modelo dos telecentros.
Wilken Sanches é doutor em antropologia e diretor geral do Coletivo Digital.



