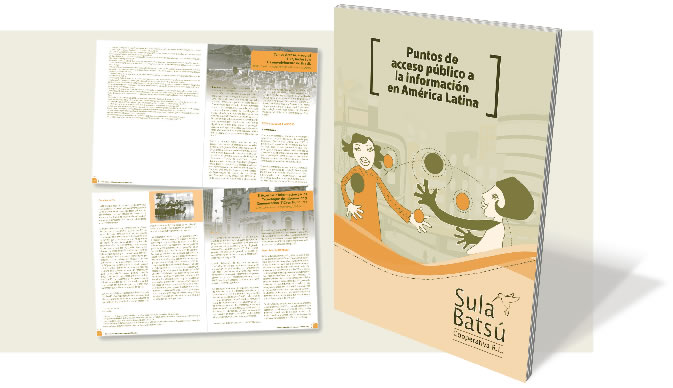
Acesso não é informação
Estudo realizado em 23 países mostra pontos fortes e fracos de telecentros e lan houses no brasil.
Patrícia Cornils
ARede nº63 Outubro de 2010 – Se os investimentos em pontos de acesso público à internet – telecentros, bibliotecas e lan houses ou cybercafés – tiverem como foco principal a oferta de tecnologias da informação e da comunicação (TICs), não haverá uma redução significativa da exclusão digital ou da desigualdade de informação entre as comunidades. O que pode acontecer, ao contrário, é essa distância aumentar, por exemplo, entre jovens (principais usuários dos pontos de acesso) e idosos (que os usam bem menos); ou entre as populações urbanas (onde está a maior parte desses pontos) e as rurais. É preciso, também, que esses pontos sejam fonte de informações úteis, locais e inteligíveis para a população.
A discussão sobre o caráter das políticas públicas de inclusão digital permeia o estudo “Pontos de Acesso Público à Informação na América Latina”, realizado em 2008, e consolidado em um livro lançado em agosto, no Peru, durante a Americas Conference on Information Systems. O livro, que está disponível na internet, para download gratuito (ver link no final do texto), analisa os aspectos fortes e fracos dos pontos públicos de acesso em 23 países. O Brasil e outros cinco países latino-americanos (Argentina, Costa Rica, Honduras, Peru e República Dominicana) estão na segunda edição. O objetivo da pesquisa foi mapear o funcionamento dos pontos, com olhar para o acesso à informação e, não, para o acesso às tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Porque de acordo com o estudo, coordenado na região pela Cooperativa Sulá Batsú, da Costa Rica, e realizado Grupo de Tecnologia e Mudança Social (Tascha, na sigla em inglês) da Universidade de Washington, não é o acesso pura e simplesmente às TICs, mas o acesso à informação que pode reduzir as desigualdades sociais – desde que essa informação seja relevante para as comunidades.
“Uma das principais conclusões desse estudo é que os pontos públicos de acesso têm um potencial incrível para se transformar em espaços dinamizadores das comunidades, com o apoio da população jovem. Mas para isso é necessário pensar e atuar estratégicamente nos usos coletivos da informação e não se limitar aos usos individuais da tecnologia”, diz o livro.
Na pesquisa, as pessoas apontam como mais relevantes infomações que ajudem a solucionar problemas da vida cotidiana: saúde, direitos de cidadania, oportunidade de empreendimentos, serviços de apoio técnico e financeiro para estabelecimento de negócios locais, informações técnicas relacionadas com agricultura. No entanto, ao verificar qual o conteúdo mais usado, na prática, vê-se o quanto esse conteúdo fica distante da expectativa. As infomações mais buscadas nos telecentros e bibliotecas se referem a educação. Nos cybercafés, as informações mais buscadas são pessoais; educação fica em segundo lugar. Educação, neste caso, trata de jovens incluídos nos sistemas formais de educação realizando estudos ou pesquisas escolares.
Em todos os países, os pesquisadores fizeram a pergunta: “Que conteúdo falta para melhorar a vida das pessoas?”. No Brasil, onde a pesquisa ficou a cargo da Fundação Pensamento Digital, concluiu-se que não falta conteúdo, mas sim habilidade na população para usufruir do conteúdo disponível. Isso se deve, em parte, ao fato de grande parte da população brasileira não ser plenamente alfabetizada. A falta de habilidade para usufruir da informação escrita restringe o desenvolvimento e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida das populações menos favorecidas.
De acordo com o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf), elaborado pelo Instituto Paulo Montenegro, em 2009 apenas 25% da população brasileira era plenamente alfabetizada. Isso quer dizer: pessoas sem restrições para compreender e interpretar elementos usuais da sociedade letrada, ler textos mais longos, relacionando suas partes, comparar e interpretar informações, distinguir fato de opinião, realizar inferências e sínteses. Outros 47% são funcionalmente alfabetizados, ou seja, lêem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências. E 21% têm alfabetização rudimentar: capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares (como um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias.
“É evidente a necessidade de iniciativas que contribuam para melhorar o Inaf, e de uma cultura que promova o hábito da leitura”, diz a seção brasileira do estudo, redigida pela pesquisadora Marta Voelcker. Além disso, a pesquisa mostra que há uma enorme produção de conteúdos nas próprias comunidades, mas não são devidamente divulgados nos pontos de acesso.
Marta relata que faltam também versões mais populares (em linguagem mais acessível e resumida) de alguns conteúdos. Poderíamos, na opinião da pesquisadora, estar usando a infraestrutura de acesso público já construída para desenvolver projetos que melhorassem as habilidades da população, principalmente pessoas que já deixaram os bancos escolares, mas também para complemento à escola, no caso dos jovens. “Isso não é visto nas intenções das políticas públicas de inclusão digital, não está nos objetivos, não é promovido nem avaliado… Na verdade, a declaração de objetivos claros nas iniciativas é quase inexistente, e quando existe remete a termos muito amplos como inclusão digital e desenvolvimento”, acrescenta.
Uma questão interessante no estudo foi a constatação formal de que as bibliotecas não são relevantes no movimento de inclusão digital no Brasil. Marta explica que, nos países do Norte – especialmente os Estados Unidos, onde está a Universidade de Washington – as bibliotecas públicas são fortes, muitas vezes reconhecidas pela sociedade como a presença do governo nas comunidades. “Foi difícil para os executores do estudo entender por que os investimentos de inclusão digital no Brasil não raro acontecem em telecentros vinculados a ONGs que têm problemas de sustentabilidade”, conta Marta.
Para Marta, o fato de as políticas públicas de inclusão digital terem eleito ONGs e outros órgão públicos para instalação de telecentros por não haver, no Brasil, bibliotecas em comunidades, é “bom em um sentido, mas o enfoque de acesso à informação parece ter sido esquecido”. As ações nesses espaços, diz ela, tendem a privilegiar o ensino do uso da tecnologia em detrimento de explorar as possibilidades abertas a partir do acesso à informação.
Os pesquisadores brasileiros identificaram quatro tipos de necessidades nas populações-alvo das iniciativas de acesso à internet. Além da necessidade de iniciativas que promovam uma melhoria no nível de alfabetização, em primeiro lugar, ficou evidente a necessidade de realizar pesquisas sobre a desigualdade social e divulgar as potenciais soluções em textos resumidos e de fácil leitura para o público leigo. Uma terceira necessidade: criar melhores mecanismos para informar a população, por meio dos pontos de acesso, sobre oportunidades educacionais fora da escola, nas comunidades. E, como quarta necessidade, ampliar a divulgação de informações relativas a saúde – como campanhas educativas promovidas pelo governo via rádio, TV e jornais; conteúdos que informem de maneira adequada sobre doenças crônicas ou doenças relacionadas à pobreza, como diarreia, subnutrição, tuberculose.
O estudo também apontou que os pontos de acesso precisam ter flexibilidade para se adaptar às demandas dos usuários. Por isso, propõe que atores sociais assumam o papel de intermediador, para garantir a recuperação da produção comunitária e sua oferta nos pontos de acesso públicos. Esses atores seriam os monitores, exercendo o papel imaginado em grande parte dos programas de inclusão digital no Brasil.
O país já deu passos adiante nesse sentido, em relação à conjuntura mapeada em 2008, aponta Marta. Um avanço foi o edital do Telecentros.BR ter incluido o pagamento de bolsa ao monitor ou operador do telecentro. Com isso, certamente deve diminuir a rotatividade dos monitores – o que ajuda a viabilizar ações que desenvolvam habilidades na comunidade, de acordo com Marta. “O Telecentros.BR também deu conta da criação de cursos de formação a distância para esses monitores. Talvez não com o foco no desenvolvimento de habilidades para uso da informação – como eu gostaria. Mas ao levar as pessoas a desenvolver projetos nos telecentros, levamos a língua escrita para suas vidas, o que inevitavelmente contribui para melhor as habilidades que elas precisam para sobreviver na sociedade do conhecimento”, acrescenta ela.
Além disso, nos últimos dois anos o Ministério da Educação (MEC) vem realizando, com a formação dos professores e gestores de escolas que recebem laboratórios e banda larga – e, principalmente, com o programa Um Computador por Aluno (UCA) – um tipo de formação que valoriza, mais do que o uso da informação, a autoria como processo de aprendizagem. “O UCA também planejou um extenso programa de avaliação não apenas da aprendizagem, mas de aspectos de impacto social e desenvolvimento de habilidades não cognitivas”, conta Marta. Esses instrumentos ainda não estão abertos, diz ela, o fato de governo estar investindo nisso é um grande avanço.
Para baixar o livro: http://faculty.washington.edu/rgomez/publications/puntos%20de%20acceso%20a%20info.pdf
{jcomments on}



